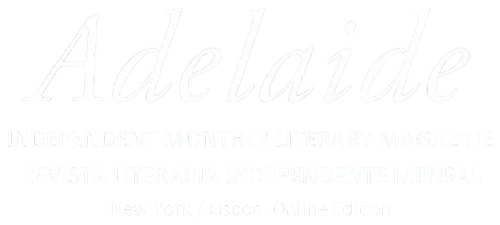AS ABELHAS FIZERAM MEL NA CAVEIRA DO LEÃO
Por João Franco
Era no reinado de D. Afonso IV, rei de Portugal e dos Algarves. Período de relativa acalmia, seguindo a estabilidade que o longo governo de seu pai, D. Dinis, instaurara no reino. O seu avô, de saudosa memória, D. Afonso III, tinha a seu favor a obra da reconquista definitiva dos Algarves e do reforço do poder real, uma vez que, passado o perigo dos mouros, os nobres e clérigos iriam perder poder e privilégios, que tinham gozado durante os reinados anteriores.
No solar de D. Sisto, localizado junto às faldas escarpadas do Mondego, o nobre cavaleiro, criado em tempo de paz, lamentava-se por não ter conhecido as ferozes pelejas dos seus vetustos antepassados e, lendo as gestas dos cavaleiros do resto da Europa, desejava ter vivido os anos violentos e heróicos dos tempos idos. Aquela vida de salão aborrecia-o, preferia ocupar o tempo em caçadas e passeios a cavalo, ao ar livre, muito embora dominasse a arte do alaúde e fosse versado na poesia da época. A família achava-o inquieto, aluado, não conseguia estar parado, havia algo dentro daquele cavaleiro que fazia-o desejar correr mundo, ser conhecido pelo seu valor e não apenas pelo lustro do seu nome ou pelo ouro do seu baú.
Não lhe faltava no solar, construído em bom granito, o pão ou o vinho, porque as terras que aquela propriedade englobava davam-lhe de comer e de beber e tinha ainda muito para vender. A sua esposa, D. Fratrissa, de linhagem antiga da nobreza leonesa, pasmava-se daqueles modos do seu marido e aventava se ali não haveria outra mulher de permeio, que rasgasse a harmonia do casal, como um punhal afiado fendia um tecido.
Certo dia de Primavera, em que o ar livre apetecia, D. Sisto decidiu-se. Os pólenes andavam no ar, entre a cintilação da luz, aqui e ali filtrada pelas copas de faias e de carvalhos. Mandou selar o cavalo, deixou na sala de armas a armadura completa, mais pesada, decidindo-se pela leveza das cotas de malha bem apertadas, por um elmo normando e por um broquel. Cingiu as espadas à montada, pegou na lança, e preparou-se para partir, carregado de víveres e de sonhos. Ao sogro, homem avisado, tinha escrito longa missiva relativa aos motivos que o levavam a partir, em busca de pelejas e glória, e sobre o governo da casa, até ao seu regresso.
Preparou duas bolsas para os seus valores, tinha de comer e eventualmente de abrigar-se do tempo inclemente e comprar outros atavios que podiam ser necessários. Na bolsa maior colocou moedas para uso diário, os dinheiros de bolhão, cunhados no tempo do actual rei, mas também outros de cunhagem mais antiga. Na mais pequena, que mantinha bem escondida, junto ao corpo, morabitinos de ouro. Nem a beleza e os apelos de D. Fratrissa tinham conseguido demover o marido daquela aventura, que à maioria parecia irracional. A época era de paz no reino, de desenvolvimento da agricultura, do comércio e do povoamento, porquê partir assim, contra a corrente, como o salmão, arriscando-se de tal maneira?
As primeiras léguas da sua longa viagem foram passadas como que sob um encantamento, usufruindo de todas as novidades, das mais mínimas coisas que a paisagem oferecia aos seus olhos e as quais ele desejava há muito no seu coração. O Falcão trotava garbosamente, o seu pêlo brilhante reflectia a luz do sol em campo aberto e quando avançavam em caminhos ornados da sombra de antigas árvores, D. Sisto era tomado por uma reverência quase religiosa. Fazia-se um grande silêncio, como num templo, quer do homem, quer do cavalo, e apenas se ouviam os sons dos pássaros nas copas e os cascos do Falcão.
Aquela primeira noite, passaram-na sob a abóboda das estrelas, um manto negro ornado por milhões de diamantes. Perto, um murmúrio suave de águas, era a canção de embalar perfeita e o sono do fidalgo foi profundo e repousante, despertando apenas com os primeiros clarões da madrugada, róseos e alaranjados.
Nas povoações, D. Sisto, transfigurava-se em menestrel, tocando e recitando, animado pelos pichéis de vinho que lhe serviam e pela alegria contagiante dos aldeãos. Mais tarde, contava-lhes histórias ao luar, junto a uma fogueira, donde se evolavam labaredas dançantes e fagulhas ocasionais, iluminando a madrugada. Claro que com o aproximar do Outono, se tornou perceptível ao cavaleiro, que para passar as estações frias necessitaria de abrigos mais sólidos e não poderia pernoitar ao ar livre. Os aldeões pouco tinham, não era justo obrigá-los a sustentar mais uma boca nos seus casebres miseráveis.
Começou a procurar solares ou castelos onde pudesse passar uma temporada mais larga. Tinha com que pagar a hospitalidade. Na sua jornada prosseguia para Sul, agradava-lhe a ideia de passar uns meses nas cercanias de Lisboa, protegido das intempéries do Inverno.
A casa de D. Jorge, que era das mais ricas das bandas da cidade das sete colinas, dominava vastas terras de cultivo na zona de Alenquer e a sua mesnada era igualmente poderosa. Cartas de foral e outras facilidades concedidas pelos monarcas tinham por fito tornar mais fácil o povoamento e desenvolvimento das zonas em torno de Lisboa, a cidade com o principal porto do reino. Esse ilustre fidalgo recebia sempre muitos convidados e D. Sisto dirigiu-se para lá. Os banquetes e saraus desse rico-homem eram famosos, não obstante o seu feitio explosivo, e toda a gente almejava a ser convidada para tais festas. O cavaleiro não pensava viver às custas do seu anfitrião. Tinha com que pagar a estadia e poderia usar os seus dotes de menestrel para prestar-lhe um serviço que costumava ser bastante apreciado.
Quando travou conhecimento com a mulher de D. Jorge, tudo mudou. Esqueceu-se do seu solar com vista para o Mondego, rodeado por fragas vastas e inóspitas onde no fim do Verão ia com um couteiro espiar os coelhos, de D. Fratrissa sua esposa, até daquele impulso que o levava a correr mundo. Por ele, ficaria ali para sempre, nunca mais iria a lugar nenhum. Amou como nunca tinha amado antes, cativo da beleza e dos modos reais de D. Grimanesa, dos seus olhos castanhos belos e expressivos. Bem podiam afirmar os homens mais sábios ou mais astutos que mulheres havia muitas, que o mar estava cheio de peixes e outras frases do género. Só quem nunca amou como D. Sisto pode dizer uma dessas. Ele estava completamente dominado por aquele sentimento, que era agradável e doloroso ao mesmo tempo, de tal modo que o desatinava e fazia andar de um lado para o outro no seu quarto, perdendo a noção do espaço e do tempo, só adormecendo já altas horas da madrugada, quando o sono o vencia por fim.
O cavaleiro português não o sabia, mas o inspirado Petrarca passava quase pelos mesmos tormentos ao mesmo tempo. O florentino, que vira pela primeira vez Laura no dia 6 de Abril de 1327, durante a missa pascal na igreja de Santa Clara de Avinhão, nunca mais fora o mesmo depois daquele fortuito encontro. Ou houvera ali mão do destino? Quem pode dizer, mesmo hoje, o que é destino, o que é acaso? O certo, é que passara os anos seguintes consumido, devorado por aquele amor que só podia ser platónico, visto ser Laura casada com um imponente conde, que não era para brincadeiras, e ser mulher séria, não estando interessada em aventuras românticas com literatos.
Reduzido àquele platonismo, que lavrava para a posteridade à força de pena e tinta, o insigne poeta, mirava na missa os cabelos louros de Laura, como se estivesse a mirar o seu altar pessoal, a sua deusa privada, e mal o sacerdote dizia:
― Ite, missa est!
Petrarca desarvorava, acompanhando a distância segura e discreta o trajecto da distinta dama, enquanto a devorava com o olhar, embasbacado, preso a ela por uma corda invisível, que o arrastava.
Com a morte de Laura em 1348, vítima de Peste Negra, Petrarca morreu também, mas continuou a arrastar o seu cadáver insepulto até 1374. Ainda pensou em atirar-se do cimo da torre da catedral de Florença, com o desespero a apertar-lhe o peito, mas foi impedido pelos seus sentimentos cristãos e teve de contentar-se em ir mirrando um pouco mais a cada dia, definhando lentamente.
Ora, era numa situação similar que se encontrava o cavaleiro D. Sisto. Mirava com suspiros profundos, mas silenciosos, o perfil de D. Grimanesa, que alheia àquelas manifestações contidas de paixão, seguia as suas ocupações de fidalga, secundada por outras damas, aias e criadas. O marido, colosso hirsuto de barbudo e guedelhudo, que virava garrafões de vinho directamente para as goelas, vigiava, com olhos de lince e trejeitos de lobo. Dizem que quem come com os olhos já enche a barriga, mas aquilo era refeição muito parca para quem tinha tão grande apetite, como D.Sisto. Ainda por cima, o fidalgo marido era conhecido por aplicar a justiça senhorial com mão-de-ferro e cobrar os impostos e servidões que lhe eram devidas com total impiedade. Vergastadas, açoites e mesmo amputações eram prática corrente, e dentro do castelo, os servos e as criadas sentiam-lhe diariamente os desmandos e as violências. Não poucos tinham recebido uma patada no fundo das costas, descendo as escadas de cambulhão, para irem buscar o vinho mais depressa.
Contudo, D. Jorge, com todos aqueles defeitos, era um homem valente. Não havia nele nada de pusilânime e as tricas entre fidalgos da região ou os desaforos dos vilões dos concelhos não ficavam impunes, sendo resolvidas à paulada ou à força de punhal. Tudo isto fazia os homens que se deixavam prender pela beleza de D. Grimanesa pensar duas vezes, se valia a pena uma lâmina afiada a cortar-lhes a gorja.
Contra os seus desejos, D. Sisto teve de abalar de novo, forçado a afastar-se da presença magnética da fidalga, deixando um morabitino com o feroz marido como paga do agasalho que recebera. A violência de recontros e batalhas poderia fazê-lo esquecer aquele fogo que o devorava por dentro, pensava ele. Vivendo como andarilho, D. Sisto percorria os negros bosques de faias, robles e castanheiros e os montes e fragas, que separavam o reino de Portugal do de Castela. Internava-se muitas vezes para além da raia, pelas planícies desoladas pela secura estival do reino vizinho, suspirando de saudades de D. Grimanesa, mal se recordando da mulher, D. Fratrissa. Não estava aflito porque sabia que o sogro estava a gerir a fazenda do pequeno solar e certamente nada lhe faltaria. Só na capoeira tinha mais de quarenta galinhas, e um galo imponente, que dava sinal de si, com um forte adejar e o seu canto rouco. E dos rendeiros da terra recebia como imposto o que lhe faltava: almudes de vinho e de azeite, moios de trigo e de centeio e ainda cabritos e borregos pela Páscoa e porcos pelo São Martinho, pás e presuntos bem curados ao lume da lareira e que depois, nas grandes friagens de Inverno se comiam cortando as lascas com o punhal ou navalha, em frente ao lume quente e forte da grande lareira de pedra do seu solar, que estralejava com gosto.
Tangendo o alaúde, no que era exímio, recebia guarida e refeições em casa de fidalgos, de cavaleiros-vilões, mas às vezes, em aldeias de pedra, tinha por companhia a arraia-miúda, o povo de camponeses e lenhadores. Em agradecimento patrulhava os caminhos próximos, mantendo-os livres de bandidos e salteadores, que afugentava para outras paragens, com a imponência da sua montada e o gume da sua lança.
Por vezes, já o Outono se instalava, o cavaleiro era surpreendido sem côdea nas florestas espessas, quando ainda se viam alguns esquilos de pêlo vermelho que acarretavam avelãs e bolotas para os buracos onde passariam o Inverno, então indiferentes à queda da neve e ao vento, que cortaria como uma lâmina. Como eles, o homem tinha de esquadrinhar o chão coberto de folhagem e muitas das vezes tocado pela chuva. Tirava os guantes, para melhor poder catar o que ia encontrando: ouriços espinhosos de castanha, algumas avelãs ou mesmo bolota dos carvalhos, bastante amarga. Se estivesse mais a Sul poderia procurar a lande doce do sobreiro e a da azinheira, a que melhor sabia aos humanos.
Mesmo cruas, devorava as castanhas e aqueles outros parcos frutos a que deitava a mão. O Falcão lá ia pastando, mas precisava de descanso, de comida farta por uns tempos, na quentura de um estábulo. D. Sisto fazia-lhe festas, a que o corcel reagia com movimentos irritados e ásperos, como se lhe dissesse que festas não enchiam o estômago. Para passar a noite, se não chovia, procurava os robles mais frondosos ou os castanheiros mais vetustos, tendo como cobertor, lá muito alto, o céu, umas vezes estrelado, outras escuro das nuvens que se acumulavam. Se chovia, tinham de procurar gruta ou outro abrigo.
Em muitas aldeias, o pão era barato, mas péssimo. A reconquista dos Algarves trouxera acalmia, paz e permitira melhorar as colheitas, mas muitas vezes o pão era de fraca qualidade. O cereal era mal debulhado e à farinha juntavam-se cascas e farelos, que faziam com que o pão lhe amargasse a garganta. Não havia ali o pão branco das casas senhoriais, fruto do loiro trigo, de farinha bem peneirada, nem sequer o escuro pão de centeio das casas remediadas e dos solares gélidos do Norte. E muitas vezes, nem um quartilho de vinho havia, no meio daquelas misérias, para aquecer-lhe o coração e ajudar a circular o sangue, que assim, exposto aos elementos, parecia que se congelava e tornava frio o corpo. Era um frio estranho que o atormentava, que quase nunca o deixava, como se um pingente de gelo estivesse a gelar-lhe a alma, fazendo-o tremer com regularidade, pensando com saudade em D. Grimanesa.
Começava a passar mais tempo no Reino de Castela, onde a possibilidade de fossados contra o reino nacérida de Granada ou mesmo de uma grande batalha o atraía bastante. Vivia agora a maior parte do tempo no Sul da Península, sempre disponível para se juntar a qualquer mesnada cristã e afrontar os mouros. Os fossados eram lançados contra as aldeias e vilas muçulmanas, com o fito de semear o pânico e de conseguir despojos. A pilhagem fazia parte do seu quotidiano. Os mouros desviavam cada vez mais soldados para proteger as pequenas localidades, mas mesmo quando vencidos eram perigosos. Retiravam para as serranias, que conheciam bem, e quem os perseguisse era quase certo que iria cair numa armadilha bem elaborada, recebendo uma chuva de flechas e dardos que matavam muitos e deixavam outros a morrer lentamente, rilhados por dores.
O desembarque de muitas tropas muçulmanas do Reino de Fez ameaçava desestabilizar a balança, e colocar os mouros numa situação vantajosa. Já tinham conquistado Algeciras e Gibraltar, tendo uma cabeça-de-ponte para futuros desembarques. Face a esta situação, o rei de Castela tinha tido de pedir ajuda ao seu sogro, D. Afonso IV e a outros reinos peninsulares. Era uma oportunidade magnífica para D. Sisto, que queria ainda dar uso à espada e à lança, distinguir-se como fidalgo e guerreiro.
No dia 30 de Outubro de 1340 tudo estava pronto para a batalha. Do lado de castelhanos e portugueses tinham-se junto vinte e dois mil homens, do lado inimigo eram sessenta mil. Além dos reis de Castela e de Portugal e de membros da alta-nobreza com as suas mesnadas, clérigos e mestres das ordens religioso-militares comandavam também as suas hostes. D. Afonso IV vinha em socorro do genro e com garbo apresentara-se à cabeça de mil cavaleiros portugueses, destinados a enfrentar a cavalaria do rei de Granada. De Portugal vinham figuras como o Bispo de Braga, o Prior do Crato, o Mestre de Santiago, o Mestre de Avis, Lopo Fernandes Pacheco, Gonçalo Gomes de Sousa e Gonçalo de Azevedo. O rei de Castela reforçou a hoste do rei de Portugal com diversas tropas: O pendão e os vassalos do Infante D. Pedro, filho do rei de Castela e neto do rei de Portugal; o mestre da Ordem de Calatrava com os seus cavaleiros; o mestre da Ordem de Alcántara com os seus cavaleiros, as mesnadas de Diego de Haro, de Gonzalo Ruiz Girón e de Gonzalo Núñez Daza e as milícias concelhias de Salamanca, Belorado, Badajoz, Ciudad Rodrigo, Olmedo, Carrión de los Condes e Saldaña, estas últimas compostas por cavaleiros e homens montados, arqueiros e besteiros e peões.
O restante das forças estava em ordem de batalha, sendo a hoste mais numerosa a sob comando directo do rei de Castela. Em Tarifa, reconquistada aos mouros no final do século XIII e cuja praça estava sob cerco das tropas marroquinas desde 23 de Setembro, o alcaide, Juan Benevides contava com a guarnição sob o seu comando e com vários reforços enviados pelo rei castelhano: o pendão e os vassalos de D. Enrique, filho bastardo do rei; o pendão e os vassalos de D. Tello de Castilla, filho bastardo do rei; as mesnadas do bispo de Jaén e de alguns ricos-homens castelhanos; os besteiros da Marina de Castilla e ainda mesnadas de Lorca e de Jerez.
O rei de Castela lutaria contra o rei marroquino e o rei de Portugal contra o rei de Granada. A cavalaria castelhana conseguiu derrotar a cavalaria marroquina e depois penetrar nas suas linhas, onde uma feroz batalha se instalou. A guarnição da praça de Tarifa fez uma incursão na rectaguarda das forças marroquinas, causando o caos e muita destruição. O rei português, com a sua cavalaria, acometia as forças granadinas, mais disciplinadas e mais empenhadas na luta, foi necessária uma espantosa avançada, com D. Afonso IV à cabeça dos seus cavaleiros, para penetrar na cavalaria inimiga e destroçá-la. Em pânico, os granadinos fugiram. Dois reis ficavam, naquele dia 30 de Outubro, derrotados. D. Sisto tinha participado na cavalgada, seguindo o pendão do seu rei. A todos tinha dado gosto ver a coragem do monarca, tomando o comando da hoste, acometendo contra a cavalaria granadina. Era a parte que nunca sairia da memória do fidalgo, o início da cavalgada, o arranque esforçado dos cavalos, sob as esporas dos cavaleiros, aquela confusão inicial em que era necessário cuidado para não se chocar com outra montada, para não cair. Depois, o ganhar velocidade, o tropel rouco e grave de mil cavalos à desfilada, a darem o máximo que os seus músculos conseguiam, levados à tensão extrema. À vista do inimigo, ajeitar o escudo no braço esquerdo, preparar a lança para a estocada. O choque da cavalaria portuguesa foi de uma força brutal, irrompeu na cavalaria granadina como faca quente em manteiga. Aquele primeiro contacto, provocou logo grande número de mortos. Depois da carga inicial, os cavaleiros dispersavam, era o cada um por si. Com denodo acometiam o inimigo, esqueciam as lanças, muitas delas partidas ou caídas no solo, desembainhavam as espadas e ouvia-se por todo aquele lugar o tinir do aço contra aço.
D. Sisto tinha derrubado logo um cavaleiro inimigo com a sua lança, varando-lhe o corpo, tentara fazê-lo pela segunda vez, mas a lança partira-se contra o escudo do segundo adversário. Todo o tempo da batalha parecia um sonho. Lembrava-se de desembainhar a espada, de acometer inimigos, com a força de um leão enchendo-lhe o peito, mas era como se a sua audição e a sua visão não fossem as mesmas, como se não estivessem normais. Nem tinha ideia de quanto tempo tinha durado a refrega, só sabia que os remanescentes do inimigo tinham debandado, fugido a galope com os cavalos, internando-se pelo reino de Granada. Muito deles, feridos, os corcéis mortos, tinham ficado no campo de batalha, junto à ribeira do Salado, eram agora feitos prisioneiros. D. Afonso IV iria entregá-los ao seu genro e por eles certamente pediria altos resgates, que iriam enriquecer o tesouro de Castela. Os arraiais do rei de Fez e do rei de Granada também tinham sido tomados, encontrando-se largas quantias em ouro e prata e outras riquezas, tomando-se aí mais prisioneiros. No dia 1 de Novembro, da parte da tarde, iniciou-se a retirada das tropas cristãs do campo de batalha, rumo ao norte. As notícias da derrota chegaram rapidamente ao Norte de África e a Granada, causando choque e surpresa, por serem as forças derrotadas muito superiores em número às dos reis de Portugal e de Castela.
No regresso do Salado, a caminho de Sevilha, dorido de corpo e cansado de alma, D. Sisto reparou naquela hoste que se deslocava para Norte, ébrios da vitória e de vinho, carregando os despojos da derrota de dois reis. Cavaleiros e peões, de muitas mesnadas, empreendiam a longa jornada a pé até Sevilha, onde se celebraria a honrosa vitória, com toda a pompa. Um peão, de vestes puídas e que empunhava a lança à guisa de cajado conduzia uma cabra castanha presa por uma corda, o seu parco despojo. Outro envergava vestes de veludo, de tecido rico, que tinham pertencido decerto a homem mais magro, o que lhe tornava impossível abotoar o grosso casacão. Cada um levava o que podia, das tendas e bagagens dos inimigos. Os portugueses, seguindo o exemplo do seu rei, tinham lidado com desdém perante aquelas riquezas.
As novas da batalha espalharam-se pela Europa e pelo Magreb, desde Poitiers que não tinha havido uma batalha tão importante e de tão grande envergadura e tinham conseguido travar os mouros do Magrebe, que sob o comando do Sultão Alboácem Ali ibn Otomão, do Império Merínida, tinham desembarcado na Península Ibérica conquistando Gibraltar e Algeciras, depois de uma retumbante vitória naval. O reino nacérida de Granada, formado em 1238, sofria cada vez mais com os ataques castelhanos, mas agora via também com preocupação os avanços marroquinos. A derrota fez com que os marroquinos do reino de Fez não voltassem a aventurar-se na Ibéria e que o reino de Granada ficasse mais isolado, valendo-se da diplomacia com o reino de Aragão, e de tributos e vassalagem a Castela.
O rei de Castela queria aproveitar o grande sucesso que tinha obtido para prosseguir os fossados e as presúrias no reino de Granada, que ele julgava enfraquecido e maduro para a reconquista. Nos finais de 1340 Afonso XI colocou sob cerco a praça actualmente conhecida como Alcalá la Real, importante baluarte defensivo do reino de Granada contra os avanços vindos do Norte. A 15 de Agosto de 1341 a praça sitiada foi definitivamente reconquistada.
Em 3 de agosto de 1342, o rei castelhano, contando com o apoio de frotas navais aragonesas, portuguesas e genovesas e com tropas aragonesas, navarrinas e cruzados de diversas origens colocou cerco a Algeciras, a capital dos domínios europeus do reino de Fez. Tropas granadinas e do reino de Fez vieram em auxílio da cidade, mas foi mais uma vitória do rei castelhano, em 26 de Março de 1344, ficando a dominar a principal porta de entrada de tropas marroquinas na Europa.
Já a neve começava a descer sobre o aventureiro fidalgo de Portugal. Os cabelos e a barba daquele andarilho estavam a pintar-se de cinzento e de branco. Aquela vida era desgastante, entre fossados e presúrias, escaramuças e batalhas de grande envergadura. O fiel Falcão também já acusava o peso dos anos, de jornadas mal alimentado e das noites ao relento. Precisava de um longo repouso, mas nunca mais seria o mesmo. Tal como os olhos de D. Sisto, os olhos do cavalo não enganavam, já tinham perdido o seu brilho há muito tempo. Em casa julgavam-no há anos louco. Tanto tempo tinha passado sobre a batalha do Salado e o cavaleiro, esperado por todos, não voltava.
O sogro preocupava-se grandemente, não tanto pelo genro, de quem cada vez mais se esquecia, estando semanas ou meses sem pensar nele, mas pela sorte da filha. D. Fratrissa portava-se com bastante dignidade, aguentava estoicamente aquela ausência do marido, dado como doido nas terras circundantes, abertamente entre os nobres e clérigos, em cochichos entre o povo. Se D. Sisto ao menos tivesse a hombridade de morrer, pensava o pai da infeliz esposa. A filha ainda era jovem, seria uma viúva rica. Poderia casar-se de novo, ter filhos, a sua família. Ele já sabia de alguns candidatos a pretendentes, todos de famílias poderosas. Daria o seu aval àquele que mais lhe aprouvesse.
Por aqueles tempos, D. Sisto andava pelo reino de Aragão, estava em Zaragoza. O Inverno aproximava-se como o galope de um corcel e ele, que pensara em deslocar-se para o reino de Jaén para passar o Inverno, sentia-se cansado, adiava a viagem, não lhe agradava a ideia de sair dali. Dinheiro já tinha pouco, mas decidiu-se a passar os próximos meses numa estalagem nos arrabaldes do burgo. O ano estava frio, farrapos de neve caíam com regularidade, mas não em grande quantidade, sobre os edifícios da cidade. A montada ficaria aquele tempo no estábulo, no aconchego e bem alimentado, na Primavera estaria certamente melhor.
No quarto, D. Sisto tinha finalmente muito tempo para pensar. A memória de D. Grimanesa permanecia, iria acompanhá-lo até ao fim dos seus dias, mas começava também a sentir a falta de sua casa, dos lugares e recantos mais familiares, com o Mondego ao fundo, a correr no seu leito, ora cinzento em dias de tormenta, ora azul em dias soalheiros, coroados pela época das vindimas, onde uma azáfama colorida tomava conta de todos. Nessas noites, tambores e flautas pastoris, com o seu som ingénuo e doce, a que se juntavam por vezes as estridentes gaitas-de-foles, animavam os trabalhadores das vinhas, que dançavam iludindo o cansaço e roubando beijos às camponesas coradas e roliças. Também gostava dos Invernos, o prazer de procurar a caça, lançando javalis e corços, ou as noites tempestuosas, ouvindo o vento, a trovoada e a chuva rugirem, no aconchego da lareira. O fidalgo começava a sentir saudades do torrão que o vira nascer.
Os anos tinham passado e o cavaleiro já sentia o sangue a arrefecer, as sequelas do somatório daqueles sacrifícios sobre o seu corpo e sobre a sua alma. Doía-lhe a pontada na perna direita onde uma lança moura tinha feito larga ferida num fossado contra Granada. E a cutilada que sofrera de uma cimitarra no cerco de Algeciras e que lhe partira três costelas, dava-lhe agora que fazer, não o deixava esquecê-la. As feridas saravam, mas as dores ficavam, atormentantes durante os tempos frios. Por vezes não tinha posição para estar. Passava boa parte dos dias no quarto, a olhar para a lenha que se desfazia sob a acção do lume, aquele calor ajudava-o a passar os dias.
Muitos dos amigos e companheiros que tinha conhecido nas suas andanças, já tinham desaparecido, alguns sem deixar rasto. Muitos tinham caído em batalha, nas guerras em que era fértil a Península naquela altura, alguns talvez tivessem tombado em sequência de ferimentos prolongados ou de doença. Os mais sensíveis ou mais arrependidos, depois de tanto sangue terem feito correr, depois de tantos mortos, recolhiam-se a conventos ou mosteiros, em busca de paz e de sossego ou de remir as suas culpas com rosários de orações e anos de penitências. Outros, mais ajuizados, tinham regressado às suas terras e famílias, onde à lareira, no Inverno, ou ao sol, no Verão, contavam as façanhas passadas e gozavam daquela pátina dourada que elas tinham colocado sobre as suas pessoas, sendo vistos como exemplos a seguir. D. Sisto, cismando nisto, começava a decidir-se a regressar a casa, desbaratadas as moedas da sua fortuna e a força da sua juventude.
Entretanto o sogro, decidia-se a passar à acção. D. Sisto nem voltava, nem morria. Talvez um lamentável incidente pudesse apressar-lhe o fim e libertar a filha daquele infeliz casamento, do esposo louco. Ele sabia que o genro não estava no reino e, portanto, enviou espiões à sua procura.
Mês e meio mais tarde, já ciente do seu paradeiro, o encanecido homem deslocou-se com esforço e cansaço à raia. Havia ali muitos homiziados, não seria difícil juntar um bando e, pagando bem, conseguir que resolvessem o seu problema, atestando depois um par deles, sob juramento pela Bíblia, que D. Sisto morrera com honradez e glória, em peleja contra o Turco. Far-se-ia o luto devido a tal fidalgo e passado esse período de nojo, D. Fratrissa poderia casar-se de novo.
Nas Espanhas, nos princípios de Março, a Natureza tornava à vida. Os rebentos verdes dos carvalhos, traziam o concretizar da promessa de nova vida e os regatos e ribeiros, alimentados pelo degelo, cresciam e, com o seu murmúrio, rompiam o silêncio invernal. D. Sisto, mais repousado, mas falido, decidiu-se a regressar a Portugal, ao seu chão. Venciam-no finalmente o cansaço e as saudades. Selou o Falcão e encaminhou-se lentamente para Oeste. Pelos caminhos, a paisagem reverdecia. Mesmo quando entrou nas vastas planícies de Castela, a erva verde, livre da neve, crescia a olhos vistos. Pasto não faltaria para o cavalo, e para ele havia, num bornal, pão e presunto com fartura. Água era fácil conseguir, em fontes que jorravam com abundância e limpidez e ele enchia com ela um odre de pele de cabra, do qual bebia a grandes goles, com prazer.
Já via as montanhas longínquas e que eram parte do reino, da sua terra. Acampou para passar a noite, bebendo vinho e comendo a sua frugal ceia. Estava tão habituado aos ruídos da noite que adormeceu facilmente, não lhes dando grande importância, eram já uma companhia esperada e reconhecida.
Ao romper do Sol, D. Sisto acordou. Levantou-se e selou a montada, preparando-se para retomar a jornada até casa. Sentia-se agora ansioso, desejoso de ver o seu solar, os seus parentes, os seus vassalos, as suas terras. Cavalgava há pouco tempo, quando um bando de meia-dúzia de meliantes lhe saltou ao caminho. Procurou logo o punho da espada, desembainhando-a. Uma flecha sibilou-lhe ao ouvido, pelo menos um dos atacantes estava numa posição vantajosa, procurando atingi-lo de longe. Os restantes acercavam-se do cavalo com chuços, punhais e clavas. D. Sisto atingiu fatalmente dois deles antes do seu cavalo tombar, sob os golpes dos inimigos. Outra flecha voou, desta vez por cima da sua cabeça. Os quatro atacantes próximos de si, tentavam atingi-lo com os chuços e os punhais. Golpeou um deles no pescoço com a espada, fazendo-o tombar enquanto o sangue jorrava com força. Uma flecha atingiu-o no ombro esquerdo, provocando-lhe perda de equilíbrio com o impacto. Outro dos atacantes, espetou-lhe o chuço na perna direita, de modo profundo. Ele não queria render-se, sabia que queriam matá-lo. Começava a enfraquecer, a perder muito sangue pelo ferimento na perna.
O frecheiro parecia estar a melhorar a sua pontaria. Uma nova seta atingiu o cavaleiro na barriga. Mesmo assim, outro atacante tombou, com um golpe largo no torso. Face àquela morte, os dois companheiros próximos recrudesceram os seus esforços, um deles atingindo D. Sisto no peito. Era o fim próximo para o fidalgo. O arqueiro saiu do seu esconderijo, perdendo enfim o temor e juntando-se aos outros homiziados para o ataque final, deixando o cavaleiro prostrado, a soltar os seus últimos suspiros.
A poucas centenas de quilómetros dali, num solar com vista para o Mondego, D.Fratrissa sentia uma náusea repentina, que a entonteceu. Teve de se sentar, para recuperar, meio espantada, desconcertada. Aquilo era novidade para ela. Levou a mão direita ao coração, era o pressentimento de que estava viúva, que o seu esposo fora arrebatado da Terra naquele instante.
Perto de D. Sisto, o fiel Falcão jazia deitado numa posição estranha, os olhos abertos e, parecendo sem fim, estendendo-se na estrada poeirenta, um fio de sangue que lhe correra pelas narinas, começando a coalhar. Os assassinos puxaram o cavalo para uma vala, cobriram-no como puderam com ramagens, tirando-lhe a sela e os arreios. Despojaram D. Sisto dos seus bens e arrastaram-no para as moitas, à sombra de um carvalho. Estavam enraivecidos pelas quatro mortes que ele causara no seu bando, não lhe dariam sepultura. Receberiam a paga do seu sogro e jurariam que o cavaleiro morrera num fossado perigoso e esforçado, sob as lanças dos mouros, com brio e honra, como um herói. O cadáver dele ficaria exposto aos elementos, até os corvos e as raposas limparem toda a carne dos seus ossos. Na Primavera seguinte, um enxame de abelhas abrigar-se-ia na sua caveira branca.
João Franco é licenciado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciéncias Sociais e Politicas e pós-graduado em Estratégia. Publica regularmente artigos sobre Geopolitica e Relações Internacionais em revistas especializadas, nacionais e estrangeiras.