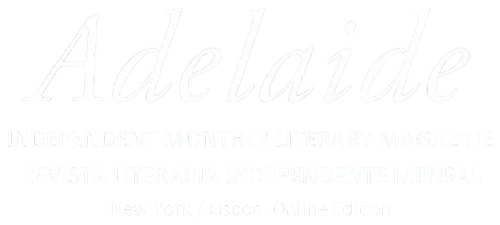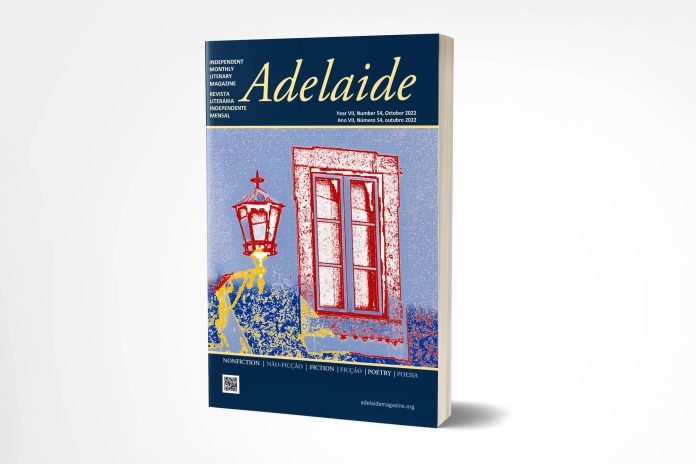Lóa acordou com um solitário raio de Sol que bateu no vidro da janela do seu quarto. A casa onde morava com a mãe e o irmão mais novo, estava ainda silenciosa. O pai tinha ido com a traineira para longe, para muito longe, e nunca mais voltara, tal como muitos outros habitantes da ilha, que se dedicavam sobretudo à pesca e à transformação do peixe nalgumas fábricas locais. Pouco tempo antes do desaparecimento do progenitor, homens fardados tinham vindo buscar muitos jovens também, e nenhum deles regressara até então. Esses militares tinham aconselhado os habitantes a partir. Muitos tinham decidido ficar. As casas da vila e as que se estendiam pelas pequenas localidades vizinhas pareciam mais frias, mais escuras e silenciosas, sem os risos e a presença alegre daquela juventude, subtraída aos seus sonhos despreocupados.
Só o vento bramia com a mesma intensidade e vigor, como fazia desde o alvorecer dos tempos, imutável e indiferente ao que acontecia ali, como se o destino e o comportamento dos humanos fossem patéticos, e além do desprezo lhe inspirassem por vezes uma sobranceira indiferença. A ele juntava-se o mar. Cinzento, bruto e frio como sempre, mas que era o sustento e o grande benfeitor daquele povo, apesar do seu ar zangado e dos seus modos de tirano. Todos o temiam em certo grau e respeitavam-lhe os caprichos, dos velhos de barbas brancas às crianças, ouvindo estas as histórias que passavam de geração em geração.
Navios acinzentados, com bandeiras diferentes da que Lóa conhecia desde tenra idade, tinham chegado ao arquipélago, despejando uma maré de jovens de uniforme, veículos blindados e tanques, mudando a vida de todos.
A jovem saiu de casa já apressada. Cruzou-se com várias pessoas, a pé ou de bicicleta. O trânsito, na ilha parcialmente abandonada, tinha-se reduzido consideravelmente. Homens e mulheres desempregados deambulavam um pouco ao acaso e era de supôr que o mesmo sucedia noutros pontos do arquipélago. Os terrenos pobres e constantemente batidos pelo vento, dominados pelas gramíneas e pelos raros arbustos e ocasionais árvores, torturadas e vergadas pelos caprichos do vento sub-árctico, iam produzindo a muito custo as batatas e alguns vegetais para as panelas, e serviam de pasto para as ovelhas e póneis. Muitos dos habitantes, habituados à pesca ou à vida mecânica ligada às fábricas, não viam com bons olhos cavar de enxada. Preferiam aventurar-se pelas falésias em busca dos apreciados papagaios-do-mar, ou pelos montes na caça às lebres da montanha.
Depois de certo dia a seguir ao Natal, Lóa recordava-se de que a televisão e a internet tinham deixado de funcionar. Fora algo estranho ao princípio, mas depois habituara-se. Os adultos, que ela já achava habitualmente tristes, mostravam-se ainda mais cabisbaixos, e nos seus olhos havia algo que ela não conseguia definir com exactidão, um silencioso desespero. Durante duas semanas a escola estivera fechada. Lóa e a mãe tinham ficado na casa dos avós paternos, que era maior e mais confortável e todos juntos sentiam-se mais seguros. Lembrava-se que a mãe tinha os olhos vermelhos de chorar e que mesmo o avô, a maioria das vezes imperturbável, se mostrava nervoso, ingerindo mais aquavit do que era habitual. Faziam o possível para que Lóa e o irmão mais novo, Erlingur, não ouvissem as notícias, que pareciam ser parcas. Algumas vezes, Lóa percebia que o rádio de pilhas do avô apenas emitia estática e os mais velhos murmuravam palavras como “guerra” e “catástrofe”. O avô passava muito tempo sentado no alpendre, fumando cachimbo e olhando o horizonte. Mas, ele já não tinha aquele ar sereno que habitualmente lhe vinha da contemplação do mar. Tudo mudara quando ele vira pela primeira vez no porto os navios de guerra com a bandeira branca, azul e vermelha. O seu semblante agora aparecia carregado e franzido, perante aquela intrusão violenta e inesperada.
A escola reabrira, mas o ambiente era diferente, mais pesado e menos divertido, ela que gostava tanto de estudar e de aprender, sentia no ar que algo mudara radicalmente. Notava-se bem como os professores, dantes compenetrados no seu ofício, olhavam muitas vezes pela janela, de olhos fixos no horizonte longínquo, esquecendo-se da sala, da matéria e mesmo dos alunos, imergindo nos seus pensamentos e sendo por eles arrastados num turbilhão, até alguma criança ou o burburinho da turma resgatá-los e trazê-los à tona novamente. A acompanhar os alunos nos autocarros escolares iam sempre polícias armados. Com o desemprego galopante cresciam os furtos, mas também os assaltos, e as vítimas aumentavam a lista mantida pela polícia local, que pouco podia ou queria fazer.
Beinar, um rapaz que morava na mesma rua dos avós de Lóa, fazia sentir à rapariga a sua presença reconfortante nos intervalos. Ele andava dois anos mais à frente, já tinha dezasseis anos e ela sentia que o jovem a procurava sempre com o olhar, aproveitando aqueles momentos de pausa. O interesse de Beinar fazia-a corar, sentindo as bochechas muito quentes. Deu por si a arranjar-se com mais cuidado antes de sair de casa, a ter muito cuidado com os sapatos e botas, a pentear cuidadosamente os cabelos cor de cobre e a ponderar cuidadosamente sobre que roupa vestir, sentindo uma confusão de sentimentos naquele processo de transição de menina para mulher. Ela gostava da escola, do estudo, ao contrário de muitos outros colegas, mas mesmo que fosse apenas para ver Beinar, já valia a pena a ida à escola.
Contudo, os sonhos de Lóa não eram povoados apenas por perspectivas de romance, de um primeiro amor que despertava e que certamente perduraria na sua memória, inspirando sentimentos duradouros de ternura, mas também por memórias de dias alegres, que pareciam agora mais distantes. Sonhava muitas vezes com o pai, sempre sonhos felizes, em que ele voltava a casa, a traineira bem pintada a entrar no porto, soando a sirene, o rugido do motor ouvindo-se cada vez mais alto, as pessoas saindo das suas casas em direcção ao molhe, ela e Erlingur correndo à frente, vigorosamente, o coração a ribombar do esforço e de felicidade, a mãe mais atrás, com dificuldade em acompanhar o ritmo das crianças, esperançosa e incrédula ao mesmo tempo, mas reprimindo o desejo de rir nervosamente.
Acabava por acordar, desiludida, às vezes confusa e suada, os cabelos bastos desgrenhados, espalhando-se sobre a cara, tinha sido mais um sonho, ficava muito tempo desperta, a olhar o tecto, a ouvir o estalar do soalho e dos móveis, aqueles rangidos da madeira que se dilata ou se encolhe ao sabor da humidade e da temperatura. Nessa altura invejava o irmão, que parecia dormir descansado, indiferente aos dramas familiares ou locais.
A mãe de Lóa perdera o emprego de supervisora numa fábrica de peixe, as grandes embarcações tinham na sua maioria desaparecido, e o peixe que os barcos remanescentes pescavam era consumido localmente ou enviado para longe, para o país do inimigo. Os ferries que serviam o arquipélago tinham cessado o seu labor e as autoridades ocupantes das ilhas apertavam o seu controlo de forma cada vez mais autoritária. A mãe e por vezes Lóa passavam largas horas nas filas do racionamento, segurando com as mãos suadas os cupões, esperando pelos víveres a que tinham direito, mas que nalguns casos não apareciam. Era quase impossível encontrar açúcar, farinha, ovos e muitas outras coisas. Isto levava a que um florescente mercado negro fosse cada vez mais procurado e que alguns ganhassem muito dinheiro com isso. Até o avô aproveitara para vender a sua reserva de aquavit, recebendo em troca ovos e manteiga.
Aos fins-de-semana o velho Knút deixava o aconchego da casa, levava consigo os netos e vagueavam pelas praias, em busca de salvados, sobretudo madeira que pudessem pôr a secar para mais tarde queimar. Lóa e Erlingur gostavam daqueles momentos com o avô. As praias, ultimamente, estavam sempre cheias de destroços, sujas. A isso juntavam-se ocasionais visitas de focas-cinzentas que deambulavam apatetadas pela areia escura e grossa, enredando-se no lixo e nos destroços, parecendo perdidas e descoroçoadas com a situação. Voluntários tentavam ajudar com a recolha do lixo, e desembaraçando os animais, mas no dia seguinte, tudo recomeçava. De pontos estratégicos, sentinelas invasoras vigiavam os transeuntes, prontas a esmagar a tiro o mínimo sinal de resistência.
Noutros dias, diversos tipos de cetáceos davam à costa, desde os botinhosos às orcas, das baleias-piloto às comuns toninhas. Os cetáceos acostavam mortos ou já moribundos e nada havia a fazer por eles. Polícias apareciam com estranhos aparelhos, circulavam em torno dos animais com medições, impedindo os populares de aproveitarem a carne e a gordura dos mamíferos. Rapidamente pulverizavam os bichos com gasolina e pegavam-lhes fogo, incinerando-os. O cheiro da carne queimada e o espectáculo da dança das chamas incomodavam Lóa e invariavelmente ela voltava costas àquele lúgubre cenário, sem conseguir evitar um aperto súbito na garganta. O avô tinha-lhe explicado que aqueles aparelhos eram contadores Geiger, que mediam a radiação, mas ela não conseguira perceber totalmente para que serviam, só que a radiação era algo mau e que agora havia muita, sobretudo onde dantes havia grandes cidades.
Beinar e Lóa, enleados, esqueciam-se do mundo, passeavam falando apenas com o olhar e com o carinho, sobretudo nos caminhos de terra e nas praias desertas. Nessas alturas parecia a Lóa que o pulsar do seu coração ia soterrar tudo o resto, estabelecendo um silêncio de paz, só ficando ela e Beinar sobre a Terra.
Não havia notícias do mundo exterior. Os invasores andavam cada vez mais irritados e agressivos, o que levava a crer que as coisas não lhes corriam como o esperado.
Foi então que o submarino apareceu. Navegava à superfície, dirigindo-se para a costa. Ostentava desafiante a bandeira branca, azul e vermelha, que recebia o fustigar do vento. Naquele dia do início de Março, a praia encontrava-se, como de habitual, varrida por um vento que levantava a areia, desgrenhava os cabelos, desafiando a coragem de quem se aventurava naquela zona em passeios ou em busca de salvados.
Contudo, o submarino não se dirigiu para o porto, para juntar-se aos barcos patrulha que já lá estavam, mas sim para a praia. Os marinheiros pareciam ter encalhado propositadamente o submarino. Eram rapazes de cabelos claros, olhos azuis húmidos e assustados, barbas ainda ralas de adolescentes. Que loucura fora aquela, que cega fúria de que tinham sido apenas peões? Queriam viver, queriam amar, naquele momento respirar o ar fresco e receber o vento na cara, atirando as armas ao mar. Os vigias na costa começaram a imitá-los, abandonando as armas, os veículos, cansados de tudo, sobretudo da guerra.
Beinar aproximou-se do submarino, contra a vontade de Lóa, que via naquilo um acto insensato. Os marinheiros lançavam uma escada de corda para descerem do submarino e nadarem aqueles escassos metros até à praia. O rapaz já estava na água pronto a ajudar aqueles que agora via como rapazes parecidos consigo. Contudo, um oficial emergiu da escotilha, de pistola em punho, gritando na língua do inimigo e disparando à queima-roupa sobre dois dos marinheiros que se aglomeravam junto à escada de corda, desejosos por descer. Enraivecido, disparou ainda alguns tiros na direcção de Beinar, antes de vários marinheiros o subjugarem e manietarem. Os tiros tinham soado como relâmpagos na praia silenciosa, atraindo todas as atenções.
Os marinheiros transportaram Beinar para a praia. Nunca a areia grossa parecera tão escura e triste. Lóa apoiou a cabeça do amado no seu colo. Não era aquela a recordação que pensava vir a ter do seu primeiro amor, que lhe sujava as calças de ganga com sangue que lhe saía dos vários ferimentos de bala. Ele pagara o supremo preço na alvorada da reconquistada liberdade. Ela pagaria com o vazio no seu coração.
João Franco (n. 1977 em Lisboa), é licenciado em Relações Internacionais e pós-graduado em Estratégia pela Universidade Técnica de Lisboa. Publicou dois poemas na colectânea Poiesis, vol. XVI (2008), a colectânea poética Azul Profundo (2012) avançando depois para a prosa com o conto O teu semblante pálido, na Revista Lusitânia (2013). No campo da não-ficção é autor do livro Sun Tzu e Mao Zedong-Dois estrategas chineses (2012) e tem artigos publicados em periódicos como Finis Mundi, Revista Intellector, Revista de Geopolítica, Nova Águia, Boletim Meridiano 47, O Dia e Jornal de Defesa e Relações Internacionais. Tem também experiência na área da tradução.