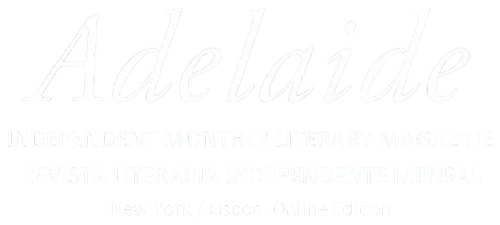OS PÁSSAROS Por Célia Correia Loureiro
(excerto)
trinta e cinco
E cogitar que as juras da Manuela – aquele amontoado de desejo tão precoce de se agrilhoar a alguém –, eram genuínas. E logo em relação a mim. Porquê eu? Um tolo, um idiota, um imoderado. Recusei-lhe essa autenticidade aterradora uma e outra vez. Feri-a, afastei-a, vi-a ir-se e regressar sem que eu descruzasse os braços ou me alongasse, por um pouco que fosse, nas suas mãos.
Acabei por divisar que a tua mãe me fazia bem. Eu era melhor quando ela estava por perto. Nalgum plano da realidade romântica, à revelia de mim próprio, encabecei na sua direcção. Comecei a dirigir-me para ela quando, dela, só me restavam as costas que se distanciavam. Chegar-lhe-ia mais tarde, quando ela era um pequeno tordo ferido. O pequeno tordo ao canto, à sombra, ao frio, na solidão.
D.
trinta e seis
O teu pai… O nariz do teu pai junto à orelha da Valentina. O teu pai a estreitá-la, a apoiá-la sob o braço. A rudeza do teu pai, os beijos mordidos do teu pai, o riso do teu pai, profundo, masculino, contra a boca da Valentina. Os dentes branquejados da Valentina. A sua camisola de caxemira e os dedos amarelados de nicotina do teu pai em redor da cintura dela. O teu pai tinha voltado a fumar. Não era só o facto de se enterrar noutra mulher, de se vir dentro doutra mulher, de pedir opiniões para a compra de canadianas a outra mulher… Fôramos nada, não é? Ele limitara-se a beijar-me uma vez e a declarar, depois desse deslize, que quando muito éramos amigos.
Era outra pessoa a fazê-lo feliz. A felicidade que eu me propusera a dar-lhe e a minha certeza de que não fora talhada para mais nada se não isso…
Julguei que morria ao deixá-lo, mal sonhava que mortes mais definitivas viriam encontrar-me quando fosse a minha boca, em riso, a derramar-se na boca dele.
M.
trinta e sete
No supermercado da capital de distrito ao qual me dirijo uma vez por trimestre, impulsionei o carrinho sem grande ânimo. Trazia na memória idas às compras bem mais felizes – acossei, em tempos, a tua mãe com um queijo regional dentro dum minimercado. Relanceei a esquina do corredor, onde a pirâmide das latas de feijão reclamava a minha atenção, e cuidei vê-la por um instante.
Após cinco anos de ausência, é-me suposto tê-la menos vívida em mente. Todavia, quanto mais tempo se interpõe entre os nossos corpos em luto perpétuo, mais sólidas se me afiguram as suas cores. Cheirei-a ao passar pelo estendal de roupa, onde os lençóis desfraldavam na brisa da quase chegada primavera. Oiço-lhe a voz encrespada, distraída, a trinar as canções que nos deram forma quando ligo a rádio. Always somewhere, miss you where I’ve been. A tua mãe confessou-me que não podia ouvir uma porção de músicas quando estava comigo porque, a dado momento da sua vida, fornicara outro a ouvi-las. A culpa é minha – ela recordava-mo amiúde, embora eu já tivesse aportado nessa mesma conclusão. Por ela, chalrava a tua mãe, só teria feito amor comigo a vida toda e, sendo o seu corpo um templo, eu teria sido o único sacerdote a consagrar-lhe religiosidade.
Azoinei-lhe que antevia o nosso fim demasiadas vezes. Uma e outra vez fi-la partir; qual beduína no deserto dos meus afectos. E tantas outras vezes ela regressava à curva do meu braço e eu beijava-a, e ela sabia a sal, e eu convencido de que não poderia negar-lhe, ao menos, a minha amizade conspurcada. Enquanto a tua mãe girava em torno do meu eixo, e eu lhe era planeta, ela proclamava-me galáxia e verbalizava que o amor que me tinha a preenchia e realizava. Eu descria na possibilidade de que a minha missão na Terra estivesse, de algum prisma insólito, ligada a uma mulher. A mulher, o casamento e os filhos seriam um mero contratempo no marasmo da vida pré-concebida que também eu almejava. Um dia, mais tarde. Bem mais tarde.
A Manuela, logo ela. Uma caixa de chocolates de amor infinito, incansável, insuperável. A cada fileira que era devorada, levantava-se a folha de papel vegetal e surgia outra. Eu receava ser-lhe um consumidor ávido. Receava que ela secasse nas minhas mãos. Não podia deixar de admirar a leveza dos seus passos, pois que sempre caminhei com o peso do mundo nos ombros. Preferia ser prudente, contido, racional, e ela era uma ave de espontaneidade e alegria infantil.
Cuidei vê-la no supermercado, junto à pirâmide de latas de feijão, e isso nunca me aconteceu – alucinações, percepções irracionais, projecções visuais, retornados em brumas. Um desafectado vislumbre de cabelo negro com reflexos de avelã e o meu peito a mergulhar sobre si próprio, a minha alma de cabeça para baixo. As mãos que empurravam o carro de compras humedeceram de súbito. A mulher que via era mais alta do que a tua mãe. Estava de saltos, notei, com o ritmo cardíaco a pressagiar uma síncope. Talvez. Talvez fosse ela. Não sei onde ela está, pode estar em qualquer lugar. Pode estar aqui.
Então a mulher voltou-se e o seu nariz arrebitado e lábios carnudos desmitificaram a minha miragem, dispersaram os contornos da minha loucura. Quando tirei duas notas do bolso, para pagar as minhas modestas aquisições, ainda respirava com uma dificuldade mal disfarçada.
Vi-a, ontem, ainda que não fosse ela. Vi-a – vi a tua mãe -, com a intensidade própria de um reencontro.
D.
trinta e oito
Cheguei a casa, arrastei-me para um canto da marquise e pus-me a contemplar a língua de luz prateada que a lua reflectia no chão de tijoleira. Abracei as próprias pernas e aninhei-me a um canto, junto à máquina de costura Singer da avó. Apoiei as costas na parede de tinta de areia. Senti a sua rugosidade na pele nua dos ombros. Iria esquecê-lo. Iria esquecer o teu pai. Era agora. Não podia, sequer, gritar-lhe que me tinha traído. Que me dilacerara, outra vez. Era a vida dele – entrelaçada na minha, mas indiscutivelmente a vida dele. Ia silenciar-me e aceitar que ele tinha o direito de a viver. Não conseguia tirar da cabeça a certeza, ainda que absurda, de que ficaríamos juntos. Sabia que enquanto a esperança lavrasse no meu peito, não me restava mais do que esbracejar em lama. Tinha de esquecê-lo. Como não podia fazê-lo (não dependia de mim), pintei o cabelo de preto. Talvez a nova pessoa ao espelho se transformasse numa nova pessoa por inteiro. Como não funcionou, mudei de cidade.
M.
trinta e nove
Visitar o passado não é boa ideia. Menti quando disse que não trouxe nada de que mo recordasse comigo. É uma mentira descarada – tudo o que trouxe, desde as minhas mãos à mala de couro que a Manuela me ofereceu num aniversário, me recorda o passado. A maior das impiedades, encerrada no interior de um livro, é uma fotografia dela. De ti. De nós os três. Arrisquei-me a violar a geografia dessa película que cozinha almas. O livro, por questões de segurança, é-me tão letal quanto uma central nuclear, ficou encerrado no fundo da mala de couro, debaixo das toalhas que nunca cheguei a resgatar dali. Sei que ele está ali. O Fio da Navalha. O único livro do Somer que a tua mãe leu e eu não. Um livro tem muitos significados e este, em especial, tem ainda o significado de conter aquilo de que tanto fujo no interior. Em boa verdade, confesso que em seis anos nunca recorri mais de duas vezes àquela fotografia.
Talvez, se entrar com pezinhos de lã nas memórias, as mesmas não me doam tanto. Talvez, se segurar a fotografia na ponta dos dedos e não a aproximar do olhar – do peito –, a mesma não me fira.
Comecei a esquecer os traços da tua mãe. Sei descrevê-los, porque descrevi-os inúmeras vezes em mente e em tentativas falhadas de sublimar na escrita. Mas não os vejo, já. Não vejo a boca despreocupadamente aberta num riso espontâneo que sei que figura nesta fotografia de jardim zoológico. Não vejo a tonalidade indefinida dos seus olhos que ali, à sombra, me pareciam quase pretos. Os cabelos negros lançados sobre um ombro; quase, quase recordo a sua textura, a sua dinâmica, a sua fragrância fresca na almofada a meu lado, quando dormíamos lado a lado. Mas a nitidez desses sentidos foge-me debaixo dos pés, escapa-me por entre os braços e escorre-se-me, como areia, por entre os dedos.
É a realidade de uma vida passada – plena de sentido, plena de intensidade. Nunca me senti tão completo, tão vivo, tão livre, como durante essa prisão. Essa breve e perfeita prisão de onde fui arrancado e atirado ao vazio da liberdade e ao eco da solidão. Não consegui conter-me. Enfiei as mãos nos bolsos ao entrar em casa e apoiei-me no balcão modesto da cozinha que remodelei. A luz filtrada pelas cortinas pardas não é suficiente para me manter afastado da mala de couro. O chão de tábuas corridas a precisar de ser envernizado não consegue expandir-se até tornar inacessíveis as toalhas que cobrem, dentro da mala, o livro. O oxigénio ao meu redor foge-me dos pulmões e só pode ser recuperado ali, como acabou por ser, quando me ajoelhei ao lado da mala, afastei as toalhas turcas e segurei nas mais de trezentas páginas desse livro do Somer.
A fotografia – e a minha boca de súbito desidratada. Acariciei a capa do livro; tanto cinzento numa só vida. Mesmo após de amainado o temporal, os destroços não foram removidos. Jazem na praia, à luz do amanhecer, expostos no raiar do novo dia, inanimados na areia húmida. A fotografia – e as minhas mãos que não tremiam desde que fiz amor com a tua mãe pela primeira vez, desde que tu nasceste e, mais tarde…
Abri o livro, folheei-o e deixei que a fotografia deslizasse, enviesada, para a ganga das minhas calças. Estava de joelhos no chão, ao lado da mala, de fotografia ali, no meu colo, à espera que eu ganhasse coragem para a voltar. A letra da tua mãe no branco reluzente. “Zoo de Lisboa, Os Três da Vida Airada”. Segurei o livro numa mão, como se o mesmo fosse uma bóia, uma garantia de sobrevivência, uma âncora ou um pilar, e virei-a com a ponta dos dedos. As formas, os rostos, a vida naquele momento ali guardada, como que aspirada para aquela realidade estática, atingiu-me com a precisão de um punho. Situo-me acima, pairo sobre mim mesmo, olho no olho do furacão. Abri a caixa de Pandora e os ventos soltaram-se. Senti até a água colar-se-me no rosto – salgada do mar, ácida da chuva. Tempestade.
D.
quarenta
Ao teu terceiro dia, saí do hospital e fui direita a casa do meu avô. O pai receava que eu quebrasse; que tu quebrasses comigo. Disputávamos o teu aconchego nos nossos braços. Ele dizia que eu estava fraca demais, eu dizia que ele não sabia pegar-te. Ele contra-argumentava que era pegando-te que ia aprendendo, eu dizia que sendo tua mãe era a pessoa mais adequada para te carregar nos primeiros dias da tua vida, ao menos isso. Ele metia qualquer coisa pelo meio e eu, enervada por todo o trauma do parto, ainda tão recente, deixava as lágrimas brotar. “Não me enerves, está bem? Quem carregou o miúdo nove meses na barriga? Quem teve as pernas abertas durante quase vinte horas e o deixou dilacerar-lhe as entranhas para sair? Quem tem pontos nos genitais?”. O teu pai acabava por baixar os braços e capitular. Só parámos de discutir junto ao leito do meu avô.
O avô Francisco tinha quase noventa anos e estava muito debilitado por uma péssima doença de pulmões. O teu pai não queria que te aproximasse dele. Eu pensei que Deus estaria connosco, ou deixaria de lhe crer aí, nesse obstáculo na estrada, se punisse um inocente e a sua mãe por unir um neto e o bisavô por uma vez, antes que o último parta. O teu pai silenciou os receios e, por alguns minutos, compartilhou da minha confiança no universo. Pus-te no colo dele, para que ele soubesse que eu também recuava e que vocês eram-me tudo.
Foi um momento bonito, filho. Chorei enquanto sorria. O teu pai pousou-te ao lado do rosto mirrado do avô Francisco, que usava uma velha camisola de algodão e que tentou soerguer-se para te ver melhor. A bisavó Lucília afastou as cortinas, subiu as persianas, ajeitou os óculos no rosto do bisavô e sorriu-vos.
Enquanto bisavô e bisneto se olhavam, ele deleitado e tu desconfiado, ambos de rostos pequenos, desdentados, mãos enrugadas e franzinas e corpos encolhidos sobre si mesmos, eu ergui a máquina fotográfica – uma analógica que herdei da minha mãe – ao nível do rosto. Fotografei o momento exacto em que os vossos olhos se reconheceram como passado e futuro de um mesmo sangue.
Ajeitado no braço do bisavô Francisco é onde te imagino ainda, em segurança e entre aqueles que nunca deixarão de te amar.
M.
quarenta e um
Ela queria ver os macacos. Regra geral, as pessoas querem ver os golfinhos ou leões ou, como eu, as cobras. (Desculpa, filho, se me esqueço de florear ou de usar o discurso cuidado com que iniciei esta narrativa). Ela não, a tua mãe queria ver os macacos na aldeia dos macacos. Levava-te ao colo, com um boné preto que contrastava com a brancura da tua pele e o rosado das tuas bochechas. Os caracóis em castanho claro fugiam pelos lados, sobrepunham as orelhas, caiam-te sobre a testa. As tuas mãos, húmidas do pedaço de pão que comias desde de que tínhamos saído de casa, apontavam aqui e ali as diferentes espécies de bicharada. Eu seguia à frente, com uma Smena Symbol da Rússia Soviética que tirava fotografias com filtro lomo. De quando em quando estugava o passo, dava-vos um grande avanço e voltava-me para trás. Sorria, aprazido pelos diversos ângulos que vocês dois me ofereciam; ela com o seu cabelo negro lustroso passado sobre um dos ombros, tu com os olhos escuros e o cabelo encaracolado, sempre de dedinhos em riste. Dirigia a lente ao espaço rectangular que vos envolvia. A mulher jovem e radiante. Tu, um passarinho pequenino que sorria aos suricatas e esperava uma gargalhada em resposta. Tu, que ficaste sério perante o aproximar lento de um pequeno jacaré. Tu, que estendias amendoins aos macacos enquanto a Manuela os chamava, tão corajosa quanto o corpo pequeno empoleirado no seu braço, pouco maior do que os macacos que se apinhavam abaixo da mão dela, da tua mão, que fazia chover amendoins sobre as suas cabeças peludas. Saltavam no ar. Guinchavam de alegria. Tu guinchavas de alegria.
A dado momento, quis fazer parte desse quadro feliz e meti a Smena na mão de um casal que passava com uma menina de cinco anos pela mão. Detive-me a explicar-lhes como funcionava o disparo da máquina. Apontei-lhes o botão que deviam pressionar. Fiz figas para que centrassem a fotografia. Juntei-me a vocês, obriguei-vos a virarem a cara e as mãos aos macacos e a sorrirem para a câmara já familiar. (Serão lágrimas, isto que me escorre, quente, do queixo?) Por um momento, enquanto o homem tentava abarcar-nos com a lente, a tua mãe estalou o dedo médio e o polegar. Chamou-te, o corpo empoleirado no seu braço, para que o teu rosto cintilasse nesse retrato de família. Olhaste. De braço no ar, pronto a apontar, mas, por sorte, de rosto desobstruído. Era quase impossível gravar-te numa película estática, visto que nunca estavas quieto. O teu rosto, filho. (Que é isto que me empapa a camisa?) Surges sério, atento ao cagaçal que os macacos faziam nas tuas costas, e foi isso que os teus olhos transpareceram ao ser captados.
Ela olhava-te com adoração. O rosto fora captado de perfil, com a naturalidade de um sorriso espontâneo, de um amor transbordante. As longas pestanas a lançar sombras nas faces altas, quase asiáticas. (Ah, Manuela…) O cabelo negro, comprido, sobre o ombro ossudo. As mãos de dedos longos sobre a tua barriga, um outro braço atravessado nessa mesma esfera saliente. Era verão. Quem me dera poder existir de novo naquele instante. (Chove na fotografia. As minhas lágrimas chovem nos nossos rostos, na minha mão, no meu quarto, no centro da minha solidão). Poder passar os dedos pela pele cor de mel da tua mãe, onde se distinguia sem dificuldade o esverdeado das veias, da vida, a pulsar-lhe nas têmporas. Quem me dera poder desviar-lhe o cabelo para trás da orelha uma vez mais, colher-lhe a fragrância com o olfacto…
E a ti, quem me dera poder cheirar-te uma vez mais. Tocar-te uma vez mais, segurar a tua mão, instrumento do teu futuro, de toda a tua acção, na palma da minha própria mão fechada.
O tempo é e será sempre algo de impiedoso. A porta fechou-se e eu fui banido. Porquê sofrer, porquê ansiar por estar do outro lado de um véu intransponível? O que se atirou no meu caminho é um monstro impossível de derrubar, um pesadelo de onde é impossível acordar-se. Um horror com garras e dentes pontiagudos.
Por instantes, após a cisão, pairou no ar e tentou asfixiar-nos a todos. Não sei se teve êxito, porque nem sei ao certo se existo.
D.
quarenta e dois
Daí por diante, limitei-me a resistir mais um dia. Quanto mais feliz fosse, maior infelicidade se seguiria. E não é o mundo que a atira para os meus pés – é algo que está sempre comigo. Persegue-me com a impiedade da chuva num dia planeado de verão. As lágrimas pedem uma autorização vergonhosa que, sabendo necessitar de expiar a dor, sou obrigada a conceder. Fecho-me, sempre que posso. Depois de vir de um supermercado onde fui martirizada com uma canção que significou demais, fecho com força a porta do carro e enterro a cara no volante. Ou nas pernas, quando estou em casa e passa o filme tal. Se a situação evocar algo que o teu pai disse, eu corro as venezianas de mim mesma e isolo-me. A televisão mencionava milhares de assuntos que discutimos, e por isso desliguei-a de vez. Atinge-me o ocasional murro das coisas partilhadas – a necessidade absoluta de as enterrar longe de mim e a incapacidade de me apartar dos únicos pedaços de matéria física que se converteram de arco-íris em negro profundo. Tudo parece sussurrar sobre ele, sobre ti – como se o mundo soubesse que tenho de vos esquecer mas insistisse na lembrança.
Eu prometi – e costumo manter as minhas promessas – que tudo terminou lá atrás. Não posso suportar mais dor, não posso fazer isso a mim própria. Os pesadelos desprendem-se de mim durante a noite – trazem-mo, memória vívida, e apertam-me a alma nas mãos. Ou porque me sorri e interponho uma parede de facas entre ambos para não correr a abraçá-lo (a enterrar as mãos no mapa geográfico do seu corpo) – as costas, os braços, quem sabe pudesse usar-me do ombro dele ou do seu peito para nele repousar a cabeça por alguns instantes. O que precisava mesmo era de ficar presa a esse instante para a eternidade, a fim de que nada voltasse a ser cruel. Ou porque se afasta, mesmo em sonhos, e os ciúmes, o desrespeito, a dor, martelam-me o peito, roubam-me a juventude, martirizam-me a alma e o peito conforme sou arrancada do sono com soluços de choro.
Dessa primeira cisão por diante estaria sozinha – mais sozinha do que sem o teu pai. Fui desprovida de cores para a vida. Dei por mim a querer ir-me embora. Afastei-me, mudei de cidade, os rostos que se cruzavam comigo não podiam magoar-me. Não sabiam do meu passado, não evocariam memórias algumas, assim como também as ruas não tinham esse poder. Contudo, aos poucos, as recordações assaltaram-me de novo. Estava sempre sozinha, mesmo quando acompanhada, a treinar a mente para não percorrer aquelas estradas que levavam ao desejo, cada vez mais premente, de me abandonar à inexistência. Não, o problema não era das ruas da anterior cidade. Era da rádio. Era da televisão. Era dos estranhos que circulavam ao redor a abordar sentimentos que o traziam em vozes alheias. Era na lembrança do que senti, e do que não seria capaz de voltar a sentir, porque era apenas uma menina quando escolhi que o meu amor seria assim; grande e sem limites. Esse amor trouxe-me a uma estrada de autodestruição consentida, com pequenos apontamentos de uma alegria, de uma amizade, de um amor que julguei vislumbrar por entre as sombras. Tudo isso ilusório. Alucinei durante grande parte da minha vida. O que me pode garantir que não volto a alucinar no futuro?
Queria ir-me embora – de mim, não do mundo. Só assim os objectos seriam enterrados e as memórias desfeitas. Só assim poderia viver, noutro plano que não este. Assim, a cada dia que me erguia da cama com esse peso e arrastava os pés até à janela da cozinha, de onde via um tanque, limoeiros e um gato no quintal da vizinha de baixo, sabia que me limitara a sobreviver a mais um dia. Não estava certa de estar lá para o seguinte.
M.
quarenta e três
Uma vez a tua mãe estava a arrumar uma caixa de pertences que não abria há anos e acercou-se de mim com um papelinho dobrado na palma da mão. Ao meu “o que é isto?”, os seus lábios balizaram um sorriso e ela prosseguiu com o arranjo da arrecadação. Os meus olhos só pousaram no papel à noite, entretanto exilara-o no bolso das calças, na tasca aonde tinha ido com o tio Gustavo. Quando o rastejar metálico das pernas das cadeiras nos ladrilhos no final da partida se tornou ensurdecedor, também nós vociferámos contra os nuestros hermanos. A Invencível Armada afundara o Sacro-Império e eu estava desconcertado.
Levei a mão ao bolso à procura de moedas que quitassem a panóplia de minis que ingerira, e senti-o. Era um velho post-it da altura em que nos conhecemos, congestionado pela sua letra larga em ambas as faces. Um breve olhar denunciou o seu conteúdo; relatava um sonho que ela tivera comigo. Contava-o ao pormenor e o meu corpo recepcionou-o como a uma carícia íntima em local público.
Crê-me, filho; foi como se os dedos de pianista da tua mãe se insinuassem sobre a braguilha do pai, lhe desalojassem o sexo e toda a gente nos visse ali, de pé numa velha tasca, prestes a representarmos um trecho de autor anónimo sobre felação. Amarfanhei aquelas palavras na palma da mão quando as minhas narinas se dilataram ao cheiro do cabelo dela. Foi como se a tua mãe tivesse acabado de desaparecer do meu campo de visão, deslizado por mim abaixo. Quase lhe vi um rasto de cabelo disperso na precipitação da descida. Quase ouvi, por entre os ruídos metálicos das cadeiras a arrastar nos ladrilhos, o desabar dos seus joelhos ossudos nesse mesmo chão agora perlado de invólucros de amendoim e tremoço.
Com as faces em fogo, acenei uma despedida ao tio Gustavo e eclipsei-me em marcha apressada para casa. Quando entrei na arrecadação, fechei a porta atrás de mim com o ombro. A tua mãe ainda lá estava e contemplava caixas de cartão prenhes de memórias. Ajoelhada.
(Antes disso, casado com a Valentina, ocorreu-me uma vez perguntar-lhe se nunca sonhava. Nunca me contara nenhum dos seus sonhos e eu tinha alguma curiosidade nos labirintos do seu sono. Nunca me esqueço da expressão de estranheza dela quando ergueu o rosto da cesta de roupa suja e me disse, intrigada: – Deves ser bruxo. Esta noite sonhei que punha a máquina a sessenta graus e estragava a minha camisola de caxemira da Calvin Klein).
D.
quarenta e quatro
Num sábado de manhã, a Diana veio bater-me à porta. Tinha as unhas pintadas de roxo e um risco negro nos olhos a alongá-los. Eu, que simpatizara com ela à primeira vista, fiquei contente de a ver. Sentia-me bem na sua companhia, quase protegida. Eu, a trintona, apadrinhada por uma rapariguinha de pouco mais de vinte anos. Sem prelúdios, estendeu a mão para o meu cabelo por pentear. Sorriu, do seu jeito arrojado, como lhe era habitual. Também isso gostava nela; aquela ausência de artifícios que tornava tudo límpido. – Acho que o seu cabelo já agradecia um cortezinho, vá vestir-se.
Entendi de imediato qual era a ideia dela. Iríamos juntas ao cabeleiro da vizinha e, sem sobra de dúvida, iriamos divertir-nos. Íamos pôr-nos a rir juntas que nem tolas – porque eu rejuvenescia na companhia dela -, como irmãs, amigas de longo prazo ou amantes. Eu não queria, nem de perto nem de longe, qualquer tipo de relacionamento. Não me sentia sequer preparada para retribuir uma amizade casual. Esse género de ligação cria âncoras, obriga as pessoas a despirem-se, a exporem-se, a confiarem às outras os seus segredos, as suas angústias, os seus passados. E ela não podia desembrulhar o conteúdo de tudo isso. Pela minha própria continuação. Pela minha sobrevivência.
– Não sei se é boa ideia, Diana – mas ela inclinou a cabeça para o lado, como se aferisse o verdadeiro motivo da minha recusa –, cortei-o há pouco tempo.
– Então anda pintá-lo – sugeriu, com um trejeito divertido. Esbocei um sorriso de satisfação involuntário. A alegria alheia é algo agradável de se assistir quando não temos amargos de boca, e a Diana parecia limpar-me desse estado de constante insatisfação e apatia –, ou frisá-lo. Que acha? Uma afro não lhe ficava mal.
Olhei sobre o ombro para o interior do apartamento. Só tem uma sala e um quarto, é alugado e não tenho ambições de mais. A torneira da casa de banho pinga durante a noite. O esquentador demora um tempo exasperante a aquecer. A pia da cozinha é de mármore rosa, como a da minha bisavó fora há trinta anos. Ademais, nessa altura tinha uma caixa de papelão de pizza na mesa de apoio da sala, com duas fatias por comer da noite anterior. Estava descalça e de pijama. Em suma, tinha aquilo que faria mais sentido pertencer à Diana – a típica casa de adolescente preguiçosa e desleixada.
Mas ela convenceu-me. Apetecia-me pautar essa manhã com uma loucura e então fi-lo, pedindo-lhe que entrasse e que esperasse por mim na sala. Vesti-me num piscar de olhos e, quando reentrei na sala, a caixa de papelão e a lata de ice tea tinham desaparecido. Os chinelos estavam lado a lado junto ao sofá e a Diana regava, com um púcaro de inox, a pobre planta de nome desconhecido que ocupava um banco alto junto à janela. Envergonhei-me do meu próprio desmazelo. A Diana, com um minúsculo rabo-de-cavalo preto a dar a ilusão de ser ainda mais nova, piscou-me o olho:
– Esta planta já viu melhores dias
A partir dessa manhã, as vizinhas consideraram-nos um casal lésbico. Nós adorámos o rótulo e, uma semana depois, fazíamos questão de dar as mãos no átrio do prédio e até à primeira esquina quando íamos beber café juntas.
M.
quarenta e cinco
Nos últimos dias, fiz por assentar as ideias noutros assuntos. O meu irmão tinha quinze anos quando migrei. Como irmão mais velho, nunca convivemos o bastante, isto porque eu estava a atingir a maioridade quando ele nasceu. A minha vida resumia-se à universidade e às mulheres que, em turnos de cinco minutos, me iam enleando os lençóis. Tinha bons amigos – nos quais não me tenho permitido pensar –, e um primo de quem era raro apartar-me.
Quando o Gustavo nasceu, a mãe era-me já alvo de relativo despeito. O pai planeava ao pormenor cada cinco minutos da sua rotina e ela, dócil como um cordeiro a caminho do matadouro, comparecia. Foi a mais fiel escrava do autoritarismo do nosso pai. Eu devia abdicar de literatura, das artes, do que quer que me trouxesse realização, em prol da análise cuidada da listagem de profissões liberais que me foi atirada para o colo. Quando cingiu as minhas escolhas de futuro a três páginas de cursos, reforçou o gesto assentando-me uma palmada no ombro, não de apoio ou motivação, mas uma demonstração de força, de hegemonia. Eu sempre tive bons resultados nos estudos e, como consequência, o meu pai queria pôr-me a escalar a montanha. Não me daria um instante de paz enquanto houvesse aspectos a meu respeito que o perturbassem, pormenores a aperfeiçoar. Chegou a aconselhar-me um pequeno bigode que recusei em silêncio, rapando conscienciosamente a barba a cada dia. Preferiria uma gadanha a remover-ma do que a satisfação do meu pai por me ver insubversivo.
(Lembro-me de uma noite com o meu primo em que, juntos, vazámos meio garrafão de vinho. Ao raiar do dia já o expelira do meu sistema, já não coalhava no meu estômago, já me pintava o polo. Balbuciei algo a propósito de o meu pai ser um nazi. Nesse mesmo dia obedeci-lhe e inscrevi-me em Economia).
O meu irmão seria (e é) um capacho do meu pai. O eu de óculos de aros esféricos e pulôver listado já o sabia. Sem consultar uma bola de cristal soube, com precisão, que o Gustavo seria aquilo que o povo apelida de “banana”, sempre disposto a bailar ao som da voz de trovão do nosso pai. Pior para ele, que nunca me alcançou, nem durante a boémia do secundário. A frustração – o ficar sempre aquém –, levou o tio Gustavo a uma adolescência de acne, pernas escanzeladas e inseguranças.
Eu gostava dele, sabes? Nessa altura podia dar-me ao luxo de amar causas perdidas. Como o Gustavo. Como o Golias que não demorou muito a começar a ter problemas nas engrenagens. Nessa altura o peito não se me contraía perante decepções e desgostos. O meu coração era jovem, forte e imune a comoções.
Assim que a vida foi minha, por arrebatamento directo às mãos do meu pai, conciliei os dias como conselheiro de investimentos de risco com as noites nas aulas de Literatura. O Gustavo teria, talvez, catorze anos quando terminei a minha graduação nessa área. Com essa idade, o pai supervisionava cada assunto do seu dia-a-dia; o números de horas sentado ao computador, o número de horas semanais de explicação e em que matérias, o número de horas que estava autorizado a conviver com os amigos, as aulas de guitarra e as consultas no ortodontologista. O Gustavo era obediente – submisso, servil –, tudo fazia para arrancar um gesto de aprovação daquele velho de quase setenta anos que dedicava os anos que lhe restavam às fissilis do quintal.
Se, na minha juventude, o meu pai fosse aquela figura caquéctica curvada perante um jardim! O Gustavo encolhia-se de timidez quando lhe dava toques no ombro, incitando-o a abandonar a casca, o armário, a servidão. Na vozinha esganiçada de adolescente, gemia “ó, o pai está doente”, “ó, o pai está velho”, “ó, todos os meus amigos obedecem aos pais”.
Eu sei que o teu tio era, e é, sensível, responsável, educado e bondoso. Gosta de animais e, quando o Golias morreu, chorou até o ranho lhe pingar do queixo. Mas o cão pertenceu-me a mim de coração, e eu dei a ordem para o abaterem depois do atropelamento.
Segurei-me e olhei-o, por detrás das grades desse controlo, e perguntei-me o que será feito do teu tio Gustavo, que chora a morte de cães como se um raid aéreo lhe tomasse a cidade.
D.
Célia Correia Loureiro nasceu em Almada, em 1989. Licenciou-se em Informação Turística pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, mas garante que a sua vocação é a escrita. Desde cedo começou a contar histórias através de ilustrações. Aos doze anos leu o seu primeiro romance e, desde aí, não parou de ler nem de escrever. Com algumas obras terminadas, apresenta-se aos leitores através da Alfarroba com “Demência” em Nov. de 2011 e, em Out. de 2012 lança, pela mesma chancela, “O Funeral da Nossa Mãe”. “A Filha do Barão” é o seu terceiro romance e também a sua estreia no seu género favorito: a novela histórica.